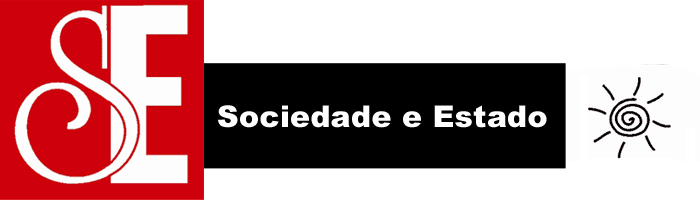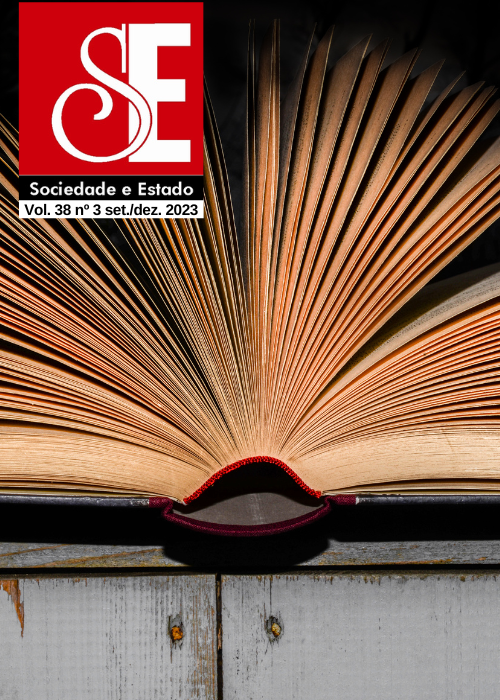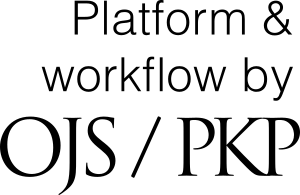Sobre a prática científica dos economistas brasileiros: entre a virtude epistêmica e a administração da irrelevância
DOI:
https://doi.org/10.1590/s0102-6992-e45502Palavras-chave:
Regime de Administração da Irrelevância, Periferização, Conhecimento Local, Economia, Dinâmicas AtencionaisResumo
Os economistas justificam a internacionalização da ciência econômica recorrendo à metalinguagem, de tal modo que a competição é apresentada como o mecanismo “exemplar” de estímulo à qualidade (credibilidade epistêmica) e produtividade da ciência (novos conhecimentos). Entretanto, a competição dos mercados perfeitos da teoria econômica raramente é encontrada no mundo real, muito menos na ciência, onde uma combinação de fatores materiais e simbólicos reforça o caráter desigual e hierárquico da produção científica. Partindo desse entendimento, o presente trabalho lança mão do conceito de “regime de administração da irrelevância” para compreender a ordem indutora de processos científicos nos quais o conhecimento produzido é diminuído a uma condição de inferioridade ante outros contextos. Mais especificamente, o objetivo será evidenciar, a partir de procedimentos conscientes ou não, a prática científica cotidiana dos economistas, elementos que contribuem para a existência de uma dinâmica atencional autodepreciada.
Referências
ALATAS, Syed Farid. Academic dependency and the global division of labour in the social sciences. Current sociology, v. 51, n. 6, p. 599-613, 2003.
ANDERSON, Warwick. Introduction: postcolonial technoscience. Social Studies of Science, v. 32, n. 5-6, p. 643-658, 2002.
BEIGEL, Fernanda (ed.). The politics of academic autonomy in Latin America. Farnham, UK: Ashgate Publishing, 2012.
______. Centros e periferias na circulação internacional do conhecimento. Nueva Sociedad, v. 245, n. 5-6, p. 168-180, 2013.
BLOOR, David. Conhecimento e imaginário social. São Paulo: Editora Unesp, 2009.
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
BRASIL Jr., Antonio da Silveira; CARVALHO, Lucas Correia. O impacto da sociologia: cultura de citações e modelos científicos. Revista Brasileira de Sociologia, v. 8, n. 20, p. 248-269, 2020.
BURRIS, Vall. The Academic Caste System: prestige hierarchies in PhD exchange networks. American Sociological Review, v. 69, n. 2, p. 239-264. 2004.
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES). Relatório da Avaliação Quadrienal 2013-2016. Brasília: Capes, 2017. Disponível em: <http://uab.capes.gov.br/images/documentos/Relatorios_quadrienal_2017/20122017-Economia_relatorio-de-avaliacao-quadrienal-2017_final.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2021.
COATS, Bob. The sociology and professionalization of economics: British and American essays, v. 2. London; New York: Routledge, 1993.
COLANDER, David. Can european economics compete with US economics? And should it?. In: LANTERI, Alessandro; VROMEN, Jack (orgs.). The Economics of Economists: Institutional Setting, Individual Incentives, and Future Prospects Account. Cambridge,UK: Cambridge University Press. 2014.
COLANDER, David; HOLT, Richard; ROSSER JR., Barkley. The changing face of mainstream economics. Review of Political Economy, v. 16, n. 4, p. 485-499, 2004.
DASGUPTA, Deepanwita. Scientific practice in the contexts of peripheral science: C. V. Raman and his construction of a mechanical violin-player. Perspectives on Science, v. 24, n. 4, p. 381-395, 2016.
DAVIS, John. Economics and economic methodology in a core-periphery economic world. Revista de Economia Política, v. 39, n. 3, p. 408-426, 2019.
FERNANDES, Gustavo Andrey Almeida Lopes; MANCHINI, Leonardo de Oliveira. How QUALIS CAPES influences Brazilian academic production? A stimulus or a barrier for advancement? Brazilian Journal of Political Economy, v. 39, n. 2, p. 285-305, 2019.
FERREIRA, Mariana. Periferia pensada em termos de falta: uma análise do campo da genética humana e médica. Sociologias, Porto Alegre, v. 21, n. 50, p. 80-115, 2019.
FONSECA, Pedro. Clássicos, neoclássicos e keynesianos: uma tentativa de sistematização. Perspectiva Econômica, v. 11, n. 30, p. 35-64, 1981.
GALTUNG, Johan. A structural theory of imperialism. Journal of Peace Research, n. 8, v. 2, p. 81-117, 1971.
KALAITZIDAKIS, Pantelis; MAMUNEAS, Theofanis; STENGOS, Thanasis. European economics: an analysis based on publication in the corejournals. Journal of the European Economic Association, v. 1, n.6, p. 1346-1366, 2003.
KNORR-CETINA, Karin. La fabricación del conocimiento: un ensayo sobre el caráter constructivista y contextual de la ciencia. Bernal: Universidade Nacional de Quilmes, 2005.
KEIM, Wiebke. Social sciences internationally: the problem of marginalisation and its consequences for the discipline of sociology. African Sociological Review, v. 12, n. 2, p. 22-48, 2008.
LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. São Paulo: Editora Unesp, 2000.
LATOUR, Bruno; WOOLGAR, Steve. Laboratory life: the construction of scientific facts. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986.
LAWSON, Tony. The nature of the heterodox economics. In: PRATTEN, Steven (org.). Social ontology and modern economics. London: Routledge, 2015.
LAZEAR, Edward. Economic imperialism. The Quarterly Journal of Economics, v. 115, n. 1, p. 99-146, 2000.
LIU, Nian Cai; CHENG, Ying. The academic ranking of world universities. Higher Education in Europe, v. 30, n. 2, p. 127-136, 2005.
LIVINGSTONE, David. Putting science in its place. Geography of science knowledge. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2003.
LONGINO, Helen. The fate of knowledge. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002.
LOUREIRO, Maria R. A Participação dos economistas no governo. Análise. v. 17, n. 2, p. 345-359, 2006.
______. Os economistas no governo. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1997a.
______. 50 anos de ciência econômica no Brasil. Pensamento, instituições e depoimentos. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1997b.
MÄKI, Uskali. Imperialismo da economia. Econômica. v. 7, n. 3, p. 5-33, 2000.
MARQUES, Fabrício. Experiência encerrada. Pesquisa Fapesp São Paulo: Fapesp, 2017. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/experiencia-encerrada/>.
» https://revistapesquisa.fapesp.br/experiencia-encerrada
MEDINA, Leandro. Objetos subordinantes: la tecnología epistémica para producir centros y periferias. Revista Mexicana de Sociología, v. 75, n. 1, p. 7-28, 2013.
MERTON, Robert. The Matthew Effect in science: the reward and communication system of science. Science, v. 159, n. 3810, p. 56-63, 1968.
MORGAN, Mary; RUTHERFORD, Malcon. American economics: the character of the transformation. History of Political Economy, v. 30, n. 5, p. 1-26, 1998.
NEVES, Fabrício. A periferização da ciência e os elementos do regime de administração da irrelevância. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 35, n. 104, p. 1-18, 2020.
______. A contextualização da verdade ou como a ciência torna-se periférica. Civitas: Revista de Ciências Sociais, v. 14, n. 3, p. 556-574, 2014.
POPPER, Karl. Conhecimento objetivo: uma abordagem evolucionária. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975.
SAES, Flávio; CYTRYNOWICZ, Roney. O ensino de economia e as origens da profissão de economista no Brasil. Locus ‒ Revista de História, v. 6, n. 1, p. 37-54, 2000.
SOBRAL, Fernada. O campo científico da economia no Brasil: Homogeneidade ou diversidade. Política Comparada, v. 1, p. 59-70, 1999.
ZERUBAVEL, Eviatar. Hidden in plain sight: the social structure of irrelevance. New York: Oxford University Press, 2015.
ZIMMERMANN, Christian. Academic ranking with repec. Econometrics, v. 1, n. 3, p. 249-280, 2013.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2023 Sociedade e Estado

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.